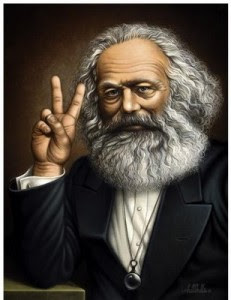[Lula]
[Lula]
ENTREVISTA - LUIZ WERNECK VIANNA, cientista político, professor e pesquisador do Iuperj
Na esteira da crise no Senado, em uma mesma semana, dois senadores do Partido dos Trabalhadores, Marina Silva e Flávio Arns, pediram desfiliação. E o líder da bancada, Aloizio Mercadante, só não entregou o cargo após um apelo pessoal do presidente. Lula engoliu o PT?
A vida partidária no PT está muito ofuscada pela presença dominante de Lula. O presidente tomou conta do partido, que é hoje um instrumento dele.
Quem dá as cartas é mesmo Lula, a bordo de seus 80% de popularidade, o deputado Ricardo Berzoini, presidente do PT, que enquadrou a bancada do Senado a votar a favor do arquivamento das denúncias contra Sarney, ou José Dirceu, que voltou à cena recentemente?
São todos políticos pragmáticos que, postos diante de uma encruzilhada, escolhem um caminho possível, independentemente dos princípios, de sua história imediata e de sua formação de origem. Lula tem um gênio para se adaptar às circunstâncias e tirar delas a posição mais favorável para ele. E tem ido nessa direção. Não se pode esquecer que, depois da crise do mensalão, mais profunda e longa que esta, houve uma recomposição de forças e o PT ganhou o segundo mandato. Só que agora, uma vez que o PT abdicou de exercer um comportamento autônomo quanto ao governo, o partido se encontra inteiramente dependente de seu carisma.
Qual foi o cálculo político de Lula na crise do Senado?
Ao que parece, o governo trabalhou para conter uma eventual CPI da Petrobrás, que talvez nem tivesse efeito tão explosivo, no fim das contas. A defesa do presidente em relação a Sarney não era obrigatória nem inevitável. Foi um caminho tomado que não deu volta. O operador político, por mais competente que seja, tem lá seus desmaios. Nem sempre consegue realizar o melhor movimento a cada instante. Acho que houve um erro aí. Veja, eu não gostaria de satanizar o Sarney: me recusei esse tempo todo a fazer isso. Mas ele ficou sem defesa. Lula fez um cálculo eleitoral, para manter próximo o PMDB, que acabou trazendo um desgaste maior do que se esperava.
A candidatura Dilma Rousseff, sobre a qual o PT nunca foi consultado, será a maior vítima desse erro? Circulam rumores de que petistas paulistas já sugerem substituí-la pelo ex-ministro Antônio Palocci, nome que empolgaria mais?
Certamente. Pode haver uma rebelião no partido, e a esta altura os indicadores começam a aparecer. Se o mensalão não tivesse ocorrido, tenho certeza absoluta de que o candidato seria José Dirceu. Mesmo com Palocci no páreo, Dirceu teria removido tudo da frente. Mas, diante do cenário que restou, Dilma tornou-se a única alternativa confiável para Lula. Resta ver se o presidente terá força, faltando um ano para o fim do seu mandato, de segurar esse tecido tão complexo, variado, que é o PT, com todas as suas tendências. Mantê-lo unido em torno de uma candidatura que não saiu do seu seio - uma candidatura de dedo, indicada - é possível, mas não será fácil.
Em um artigo recente, o senhor lança mão de uma metáfora utilizada pelo historiador Raymundo Faoro, a da "viagem redonda" do Brasil - que se moderniza, sem remover o patrimonialismo de seu caminho - para descrever mudanças pelas quais o PT passou nos últimos anos. O que quer dizer?
O PT começa seguindo o mapa que Faoro desenhou, dos recifes a serem evitados. Mas em seus dois governos ele assume esse mapa e passa a governar com ele. É o que qualifiquei de "viagem quase redonda" do PT - que em sua origem recusava o modelo do nacional-desenvolvimentismo da era Vargas, sua estrutura sindical corporativa e o processo de modernização imposto pelo Estado à sociedade. E o que se viu, por astúcia da razão, foi o partido acabar se identificando com esse mesmo inventário.
Que tipo de "astúcia da razão" fez com que o PT abandonasse o que o senhor chama de "DNA contestador da modernização à brasileira", que o partido possuía?
Governar é ser posto diante de escolhas difíceis, de encruzilhadas. E, à medida que foi se colocando diante delas, Lula foi fazendo opções que acabaram recuperando a tradição da era Vargas, sem que houvesse intenção clara nisso. Acho que não houve uma estratégia: incidentes no meio do caminho foram tangendo o PT a se identificar com temas, trajetórias e formas de conceber a política que antes denunciava como males do Brasil - como o corporativismo sindical, por exemplo. Outro dia mesmo saiu estampada nos jornais uma frase do presidente Lula repudiando o processo de denúncias que Getúlio sofreu. No governo, ele passa a ser o grande defensor de uma tradição republicana que o PT sempre criticou. E não estou fazendo juízo de valor com isso: em boa parte, sou até favorável à valorização dessa tradição.
Em que sentido?
Publiquei um conjunto de ensaios com o título Tradição Republicana Brasileira, que afirma sobretudo a importância do Estado. Este país não pode ser pensado sem essa instituição: ele foi criado a partir dela. E tem sua história de modernização diretamente atrelada à ação estatal. É evidente que ela assumiu sempre uma função assimétrica em relação à sociedade, em alguns momentos, autoritária, em outros, autocrática, como em 1937. Mas, ao longo do processo de modernização brasileira, o Estado foi sendo obrigado a se democratizar. E se encontra hoje, apesar de tudo, mais democratizado do que em qualquer outro momento de nossa história - no que a Carta de 1988 exerceu papel fundamental. É preciso valorizar o público. Especialmente após a crise financeira que se abateu sobre o mundo. É importante ter um Estado com capacidade de intervir e certo patrimônio para defender dimensões capitais da economia.
Alguns analistas políticos afirmam que as forças de oposição ao governo Lula foram fracas e desarticuladas. O senhor concorda?
A oposição ficou muito difícil de se fazer porque o presidente levou a sociedade toda para dentro do governo. O capitalismo agrário foi para dentro. O MST também. Os empresários da indústria, assim como várias centrais de trabalhadores, idem. Costumo dizer brincando que só eu estou fora (risos). Então, como se pode operar em um contexto que o governo mantém uma enorme capacidade de envolver a sociedade e trazê-la para si, dando-lhe posições de governo e, além do mais, cativando a massa da população desorganizada com um programa do tipo Bolsa-Família. Não sobra espaço para a oposição. Agora, na medida em que o governo Lula se aproxima do final, as contradições que o animam vão aparecendo. Porque a única possibilidade dessas contradições conviverem, coexistirem, era a ação dele. Lula foi o grande prestidigitador, o alquimista capaz de trazer a pluralidade da sociedade para dentro do Estado e fazer com que suas controvérsias se desenvolvessem lá dentro - e não fora -, sob sua arbitragem. Essa é a arquitetura getuliana que eles incorporaram, e que descrevi no artigo O Estado Novo do PT.
Um outro percurso teria sido melhor para o partido?
Eu não sou nem nunca fui um intelectual do partido, não penso a partir do PT. Mas foi uma trajetória possível. Outra teria sido necessariamente mais ousada, mas provavelmente não teria feito o segundo mandato. E, se o tivesse feito, teríamos hoje um presidente enfraquecido, incapaz de interferir no processo de sua sucessão.
Essa interferência de Lula em sua sucessão fica prejudicada pela entrada de Marina Silva na disputa?
Acho que o fenômeno Marina é de enorme importância, de um tamanho que a gente ainda não consegue estimar direito. Não o vejo como mero episódio de luta eleitoral. A ida da Marina para o Partido Verde e sua candidatura à Presidência da República são fatos de enorme importância para a estruturação do sistema partidário brasileiro. O PV será, sem dúvida, revitalizado com a chegada de um quadro da expressão nacional e internacional de Marina. Ela é carismática, tem uma vida que se pode mostrar e milita em um tema de relevância mundial. Não é uma perda que um partido possa sofrer impunemente. Sua entrada no jogo vai mudar muito as eleições e a política brasileira. Sua candidatura é imprevisível, especialmente nesse contexto de desmoralização da política, dos quadros políticos, dos partidos. Ela parece alguém fora de tudo isso, uma pessoa limpa no meio de um mundo contaminado.
O PV tende a se aproximar mais do PSOL, que está no campo da esquerda, ou do PPS, mais próximo do PSDB?
Acho que o PV deve seguir uma trajetória independente, consultando as conveniências. A esquerda brasileira faz um movimento com a Marina que pode ser metaforicamente compreendido pela migração do ABC de São Paulo, a classe operária moderna do Brasil, para Xapuri, a selva, o Acre - um território de outro tipo, onde o capitalismo é fraco, as dimensões materiais não são tão valorizadas, há uma ênfase na dimensão espiritual e nas relações solidárias. Vejo nela uma outra forma de expressão para as lutas anticapitalistas no Brasil, que não passam por setores modernos, mas por essa mística do camponês, do interior, de uma cultura não contaminada pelos interesses materiais.
Em que sentido isso pode ser renovador?
Veja, não estou aqui me identificando ou sendo mobilizado como cidadão. Mas para se ter uma ideia da importância, basta pensar que a Amazônia é um tema estratégico para o Brasil e para o mundo. Acredito que a candidatura Marina vá atrair a atenção de ONGs da Noruega, da Dinamarca, da Alemanha e dos EUA em torno de uma liderança de natureza quase messiânica. Sua entrada na campanha deixa a sucessão mais imprevisível do que era. E não descarto a possibilidade de ela ter boa recepção nas urnas. Efeitos Obama são possíveis aqui.
Em um cenário de tantas concessões em nome da "governabilidade" e da aliança para a sucessão de Lula, o que pode restar ao PT caso perca a eleição de 2010?
2010 é para o PT de hoje questão de sobrevivência. Se perder, terá de fazer uma grande reavaliação, discutir sua trajetória recente e as razões da derrota. E aí ou o partido sai renovado, com uma linha mais definida na qual o lulismo terá sido enterrado, ou viverá uma crise permanente até perder o resto de sua identidade original. Como eu sempre digo, partidos não morrem, mas podem diminuir, se apequenar. Aquele PT pré-2002 já é um capítulo do passado.
Há algumas semanas, o pré-candidato Ciro Gomes falou do dilema de se governar o País com ou sem o PMDB: da difícil convivência com esse "centrão" conservador. Para ele, apenas Lula, a bordo de sua enorme popularidade, resiste a tanto desgaste. E previu uma crise para 2010 pois ninguém - Serra, Dilma, Marina ou ele próprio, Ciro - será capaz de administrar essa realidade política. Ele tem razão?
Quem tinha força e representação política para segurar esse difícil equilíbrio de contrários era o Lula. Sem ele, esse tecido tende a esgarçar, o que não quer dizer se romper. Mas as dificuldades serão bem maiores. E, inclusive, obrigarão o governo a ter uma linha mais definida, com menos conciliação - o que pode vir a ser bom.
De que maneira?
Pode nos obrigar a uma maturidade política que não fomos obrigados a ter, submetidos que fomos ao infantilismo político que advém do fato de termos sidos tutelados 16 anos por essa social-democracia que optou pela indefinição: a do PSDB e a do PT.
Então o senhor concorda com a tese de Fernando Henrique Cardoso segundo a qual não resta ao PSDB nem ao PT mais do que exercer o papel de "vanguarda do atraso", conciliando as forças conservadoras para se manter no poder?
Sem dúvida. A única possibilidade de Fernando Henrique me citar é para dizer que eu sempre sustentei isso (risos). O Brasil moderno, sozinho, não tem força para se afirmar sem o apoio da tradição. Mas é o moderno que tem que dirigir a tradição.
Em 2010 será possível ir um pouco além nessa 'liderança do atraso', pelo menos?
Acho que tanto Serra quanto Dilma teriam identidades mais bem definidas e poderiam governar a partir do moderno, da extensão das riquezas materiais. Eles têm um perfil muito parecido, na verdade. Iriam conviver com esses grupos mais conservadores, mas manteriam com eles relações menos próximas que as existentes nos governos FHC e Lula. Inclusive por temperamento. Fernando Henrique e Lula são dois brasileiros cordiais. Você não pode dizer isso do Serra nem da Dilma.
.
 [Aeroporto, 1951. German Lorca.
[Aeroporto, 1951. German Lorca.